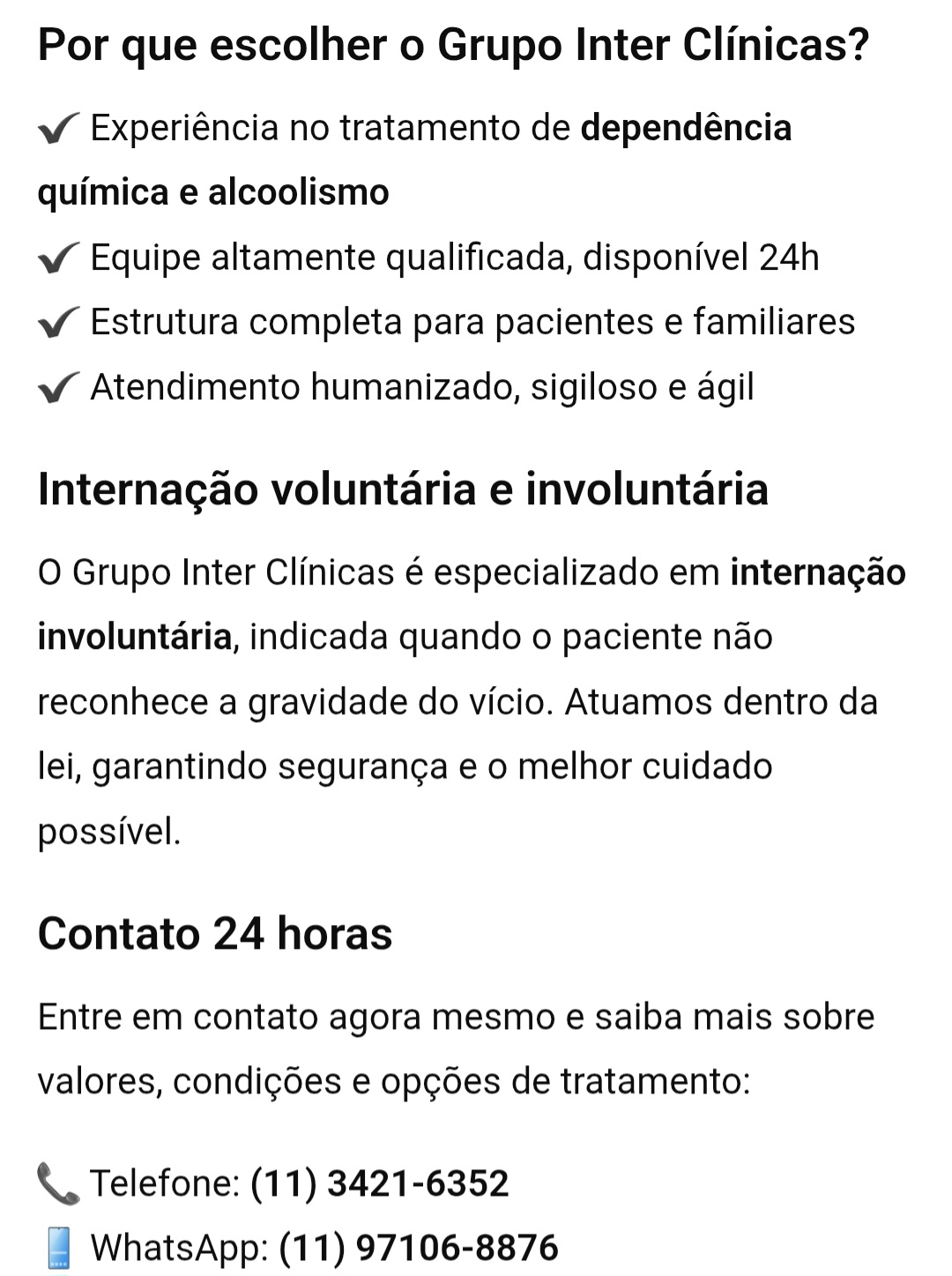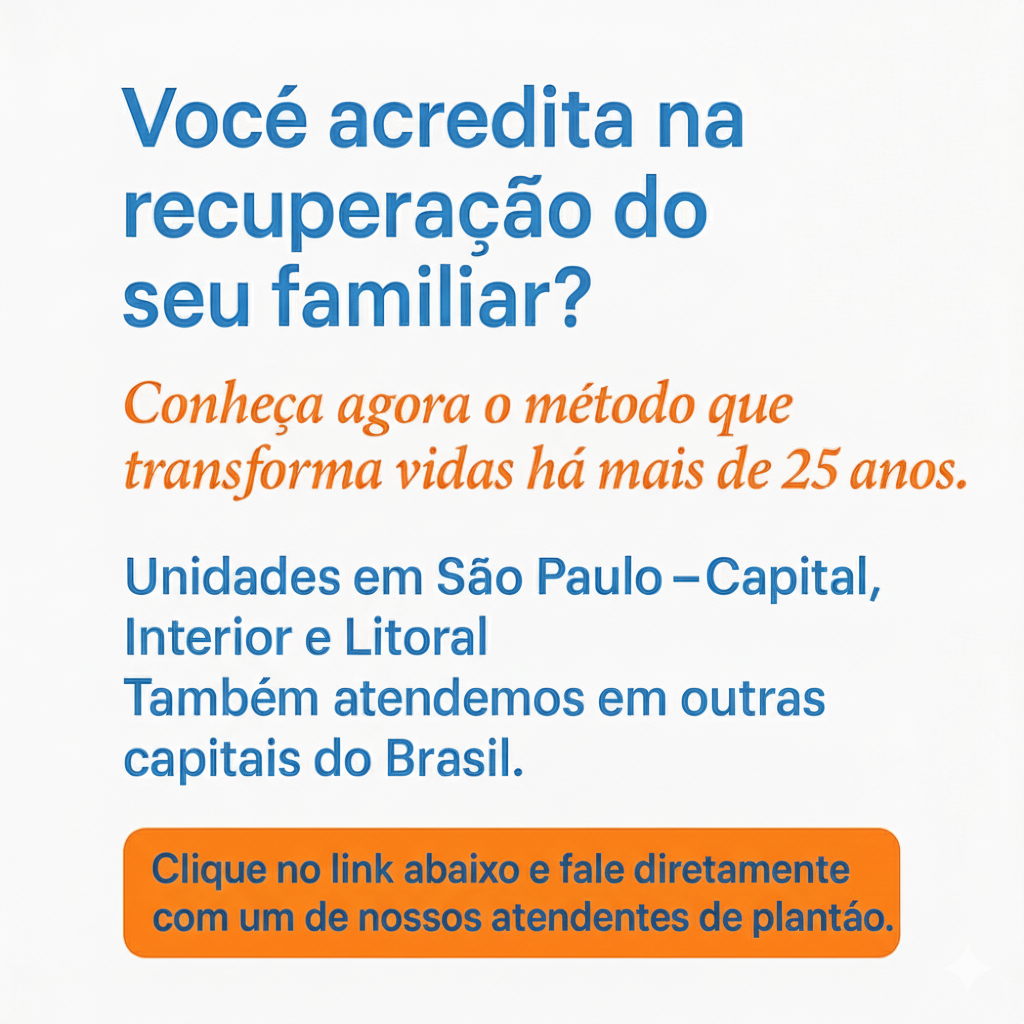
Equipe de remoção 24 horas
Projetos de vida e possibilidades de recuperação
Esta categoria define as perspectivas do sujeito em relação ao seu futuro, contemplando dimensões de crenças (ideias e sonhos sobre o que deve fazer), expectativas (perspectiva de mudança ou de continuidade, esperanças de melhora) e ações (estratégias de recuperação, resgate de vínculos, projetos concretos).
A projeção que o sujeito faz decorre do contexto e do significado atribuído às suas experiências de tratamento, de recuperação e de recaída. Considerando as categorias referentes à significação das experiências dos entrevistados, percebe-se uma tendência à passividade: o tratamento pontual e repetitivo, a ambivalência ao reconhecer a recuperação, o papel de doente crônico que lhe foi atribuído pela racionalidade dos serviços de saúde. A tendência predominante nos relatos sobre as projeções de recuperação é coerente com a tendência das categorias anteriores: passividade; poucos planos concretos; perspectiva de repetição de tratamentos; restrição do cotidiano à prevenção de recaída; e esperanças vagas de melhora num futuro distante.
A seguir o detalhamento da categoria 6:
Tabela 2 - Clique para ampliar
De modo geral, para os entrevistados, recuperação é entendida em sentido amplo, não apenas o controle do alcoolismo, mas também o restabelecimento de vínculos e melhoria das condições de vida de modo geral.
Os participantes atribuíram destacada importância à realização de tratamento, colocando este como o aspecto prioritário da vida no momento. Para a maioria, a internação hospitalar foi porta de entrada para a rede de saúde, permanecendo como principal ou único tipo de atendimento.
A maioria dos pacientes explicitou como planos para tratamento após a alta a continuidade do tratamento em comunidade terapêutica (CT) ou em acompanhamento psiquiátrico ambulatorial, retorno ao Centro de Atenção Psicossocial -álcool e outras drogas (CAPS-AD) e aos Alcoólicos Anônimos (AA). Seguem a recomendação do próprio serviço, de que devem manter-se em tratamento, sendo que seus planos futuros ficam muito restritos nestas recomendações.
Novas internações, apesar de não desejadas, fazem parte da perspectiva de tratamento futuro para alguns pacientes, que consideram que precisam de internações muito longas, como em CT. Nessa mesma lógica, muitos mencionam a necessidade de manter-se em um tratamento permanente, ou por um prazo longo e indefinido, entendimento coerente com a concepção hegemônica de doença crônica, que impõe a necessidade de cuidado durante o resto de suas vidas. "Eu, quando sair daqui, eu quero ver se consigo uma fazenda. Um período maior, mais longo, né?" (Participante nº 13).
Os participantes também se referiram a estratégias que acreditam que deveriam adotar para se manter em recuperação, sendo que primeiramente referiram-se à importância de ter determinação, no sentido de manter a força de vontade para não beber e também no sentido de nutrir um desejo sincero de mudança: "Só que eu sei também que não é assim, a gente tem que querer de verdade, né?" (Participante nº 1).
Aqui há mais um indício da magnitude do aspecto moral na compreensão do alcoolismo e da racionalidade dominante. Afirmam a importância de conseguir se controlar -e tal controle sendo uma atitude racional e voluntária, que depende de uma decisão moral. Mais que isso, essa decisão deve ser sincera, deve refletir um desejo autêntico de abstinência.
A questão da sinceridade provavelmente está relacionada à ideia de senso comum de que alcoolistas costumam mentir muito. Mesmo entre profissionais da saúde, é comum a ideia de que alcoolistas não desejam sinceramente parar de beber (Vargas, 2010). Apesar da noção de doença, em que se leva em conta a questão da ambivalência, e para a qual se apontam determinantes alheios à vontade do sujeito, mesmo assim, permanece a desconfiança quanto à sinceridade dos sujeitos.
Certamente a determinação é relevante para mudança de comportamento, porém o que se questiona é o caráter de julgamento moral da autenticidade das intenções de recuperação declaradas. A preocupação com a avaliação da sinceridade pode prejudicar a consolidação de um vínculo terapêutico, como no caso de serviços que se tornam fiscais da abstinência, inclusive impondo exames laboratoriais para confirmá-la (Junghanns et al., 2009).
O segundo tipo de estratégia mais frequente foi a restrição das atividades cotidianas, para evitar estímulos ao consumo, como a ida a bares e o contato com amigos que bebem: "É, ficar dentro de casa agora, né? Sair de casa pro serviço, do serviço pra casa e seguir em frente. (...) Se ficar na rua, volto a beber ligeirinho" (Participante nº 10).
Essa é uma estratégia comum nos tratamentos tradicionais, estimulada pelos Grupos de Ajuda Mútua, como os AA. Questiona-se a viabilidade e eficácia dessa estratégia a médio e longo prazos. As restrições de lazeres e vínculos, no intuito de escapar às "tentações", dificilmente se manterão por muito tempo sem causar sofrimento. O abandono de círculos sociais e de atividades gratificantes pode contribuir para a falta de sentido na vida e sensação de solidão, que foram apontadas por esses entrevistados como fatores de risco associados ao retorno ao abuso e confirmadas por outras pesquisas (Alvarez, 2007).
Uma fala é particularmente emblemática das necessidades desses pacientes que extrapolam o alcance dos tratamentos tradicionais. Respondendo sobre o que achava que deveria fazer para se recuperar, um dos pacientes citou a necessidade de reencontrar felicidade em sua vida:
- Tem mais alguma coisa que tu acha importante pra se recuperar? (Entrevistador)
- [longo silêncio, pensativo]. Só ser feliz de novo. [...] Porque quem tá assim, nesse modo, nesse sistema, que eu tô... tu não vê, tu não vê felicidade, tu não acha graça, não... tu não tem amigos... (Participante nº 13).
Evitar estímulos implica restringir as atividades e abandonar amigos e divertimentos; daí a valorização do isolamento, o uso prioritário do hospital em detrimento da rede básica e o desejo de internações mais prolongadas - são medidas necessárias para viabilizar a abstinência por essa via sacrificante, que afasta o sujeito da felicidade almejada.
Essa é uma visão predominante do tratamento do alcoolismo, assumida pelos usuários e encarada como uma luta constante para não beber, desconsiderando questões importantes como os efeitos de contextos e a função da bebida na história do sujeito (Schneider, 2010). A fala acima, assim como os relatos sobre as experiências de recuperação, subvertem o raciocínio que tradicionalmente se aplica ao futuro do alcoolista: considera-se que o sujeito precisa parar de beber para sua vida melhorar; no entanto, é possível que sua vida precise melhorar para que ele consiga parar de beber, pois a compulsão que o lança para o álcool é gestada pelas insatisfações e carências da vida cotidiana.
Muitos entrevistados manifestaram explicitamente o desejo de uma melhora de vida em sentido mais amplo, como ilustrado por estes trechos:
- Ah, normal, né? Poder levar vida normal. (Participante no 2)
- Que é vida normal? (Entrevistador)
- Não beber. Poder voltar a estudar. Trabalhar assim, normal. Sem ter problemas de saúde. (Participante nº 2).
Porque eu tô com 39 anos, e eu me considero que eu tô novo ainda, então eu tenho muito o que viver ainda, e se Deus quiser, viver com qualidade, né? Qualidade de vida, né? (Participante nº 9).
Apenas um participante disse não vislumbrar a quebra dos ciclos de melhoras breves, recaídas e internações. Chama a atenção o fato de esse mesmo participante (nº 2) ter relatado dois períodos de recuperação no passado, em épocas de sua vida em que obteve melhores condições de moradia, afastamento de conflitos familiares e trabalho gratificante. Nesses dois períodos, ele relatou uso moderado (baixas doses e consumo restrito aos finais de semana), melhora importante dos sintomas de ansiedade que o afligiam e satisfação com seu trabalho. Esse relato indica a função da bebida como forma de enfrentamento das dificuldades e afetações provocadas pelo seu contexto psicossocial, sendo que o sujeito não tem background para lidar com a situação a não ser pela fuga do álcool ou do ambiente.
Esse paciente foi o que ilustrou de forma mais explícita e completa os principais pontos de discussão dessa subcategoria: 1) o sujeito desqualifica suas experiências de recuperação se elas não incluíram abstinência, apesar da melhora em vários aspectos da vida com a diminuição do uso; 2) o sujeito não inclui em seu planejamento para o futuro a tentativa de reproduzir contextos ou repetir estratégias que já lhe foram úteis no passado; 3) o sujeito não vislumbra forma de enfrentamento de suas dificuldades em seu contexto psicossocial; 4) o sujeito planeja seu futuro em torno da realização de tratamento e da esperança por abstinência duradoura.
Chama a atenção o contraste entre as manifestações de importância atribuída ao tratamento e os relatos de poucas mudanças percebidas com os tratamentos anteriores, já que os pacientes foram reinternados várias vezes, com uma experiência de fracasso sucessiva na recuperação.
Cabe questionar até que ponto os serviços estão considerando aspectos significativos para a recuperação de seus usuários. Há o incentivo à adesão ao tratamento e o alerta sobre as recaídas; mas o serviço promove outros fatores de recuperação que não a adesão a tratamento e a manutenção da abstinência?
Os participantes relataram também suas perspectivas em outros aspectos da vida, dentre as quais se destacam as projeções sobre o relacionamento familiar, quando explicitaram esperança de recuperação de vínculos rompidos em decorrência do alcoolismo; ou manutenção do vínculo com o familiar que vinha propiciando apoio social. Alguns, no entanto, apontaram perspectiva de distanciamento atual dos familiares, acreditando ser impossível resgatar seus vínculos, devido a desconfianças e ressentimentos.
É importante ressaltar que, nos casos em que havia ao menos um vínculo preservado, esse adquiria uma importância motivacional. Seis participantes se manifestaram nesse sentido, aludindo a vínculos com crianças (filhos, netos e sobrinhos): se recuperar para dar conta de seu papel de responsável (no caso dos pais), ou ao menos para ter a gratificação de estar presente durante seu desenvolvimento (avô e tio). Isso vai ao encontro de resultados de outros estudos, que apontam a presença de vínculo com cônjuge e filhos como fator associado à recuperação (Dawson, Goldstein, & Grant, 2008).
Note-se que é uma motivação que se estabelece na intersubjetividade, pela possibilidade de reinserção familiar. Não se trata de motivação enquanto característica interna do sujeito, que ele nutre apenas com sua conscientização sobre portar uma doença -o sujeito tem motivos para se cuidar porque tem um projeto a realizar. Mas a construção desse futuro deve ser ação concreta no mundo, ou seja, na mediação com outros significativos, refazendo suas relações, que vão abrindo campos de possibilidades onde o sujeito vislumbra sentido para seu ser (Sartre, 1960).
Muitos também fazem planos na dimensão amorosa e interpessoal, como encontrar nova companheira ou manter o círculo de amizades. Em termos de perspectivas futuras, também elaboram metas referentes à dimensão profissional: "Já fiz dois cursos, de pintor e de azulejista pelo Senai/Fiergs." (Participante nº 5); "Eu tenho plano, vou fazer um curso de Teologia, se Deus quiser, o pastor me ofereceu." (Participante nº 9).
O retorno ao trabalho é um plano mais imediato de recuperação. No entanto, para quatro dos nove participantes que se manifestaram sobre trabalho, é uma vaga possibilidade, que depende de sua recuperação completa primeiro. Isso remete à ideia de necessidade de internações prolongadas e de tratamento intensivo e/ou permanente - reflete um entendimento de que o alcoolista precisa acumular certo tempo de abstinência em isolamento ou sob proteção, para só então retomar suas atividades.
Assumindo o papel de doentes, no qual eles podem ser dispensados de certas expectativas e obrigações sociais, desde que se comprometam com o tratamento, muitos alcoolistas deixam de incluir a ocupação em seus planos (Alves, 1993). Cria-se um círculo vicioso: o sujeito decide buscar trabalho apenas após estar recuperado (em abstinência duradoura), sendo que estar trabalhando é fator favorável à recuperação. Acreditando que apenas fazer tratamento e se confinar em estratégias de evitação resultarão em abstinência, e que a abstinência automaticamente melhorará sua vida como um todo, o sujeito não investe em outros fatores de recuperação (estar empregado, por exemplo).
Frente à pergunta "como gostaria que estivesse a sua vida daqui a um ano?", a projetos concretos de futuro (o que implica decisões, escolhas, planos, ações), apontavam a dificuldade ou até impossibilidade de fazer projeções de médio-longo prazo, mostrando que a esperança é vaga e utópica quando confrontada com os caminhos a trilhar para o futuro:
Eu vivo só por hoje, hoje eu não vou beber. [...] Porque eu não posso pensar a longo prazo, porque senão se torna um fardo muito pesado pra mim. [...] Eu imagino minha vida só por 24 horas [...] Entende, eu não posso pensar daqui a dois, três dias, daqui uma semana (Participante nº 3).
Percebe-se a influência da doutrina proferida pelos grupos de AA, que tem como um de seus slogans o "só por hoje", que faz com que o sujeito se volte para o momento atual, produzindo um corte com o futuro, na medida em que pensar nisso pode ser ansiogênico e, assim, lançar o sujeito na compulsão pela droga. Isso pode ser verdade, mas, por outro lado, sem perspectiva de futuro, qual o sentido da recuperação para um sujeito? Para que lutar, cortar certos prazeres, se não há uma perspectiva pela qual valha a pena viver? O sentido de futuro é que faz o sentido da vida de um sujeito (Sartre, 1960). Nos depoimentos, fica claro como a falta de perspectiva de futuro impede a busca por alternativas de recuperação:
A minha vida tá... como vou explicar... tá abalada, minha vida tá abalada. Eu não sei que rumo eu pego. Que nem aquela história do cego no meio do tiroteio, eu não sei pra que lado eu vou. (Participante nº 13).
A dificuldade de fazer projeções pode decorrer do momento crítico que o sujeito está vivenciando, não encontrando motivos e/ou oportunidades de pensar qualquer outro projeto de vida, nem sendo estimulado a isso nos tratamentos por que passa. Já nas falas de alguns participantes, não há dificuldade, e sim uma recusa em fazer projeções. E há ambivalências: o mesmo participante pode descrever, por exemplo, planos para voltar ao trabalho ou envolver-se na criação do filho e, ao mesmo tempo, indicar que irá organizar a vida em torno da manutenção diária da abstinência, sem pensar a médio ou longo prazo em projeto algum além do tratamento.
Isso indica o descompasso entre o imperativo da abstinência como meta única e as questões que dão fundamento para o sentido existencial. A complexidade do processo de reorganização dos projetos de vida e, consequentemente, das identidades dos usuários é pouco considerada na maioria das propostas de tratamento. Os resultados deste estudo reforçam os achados de que as modalidades mais convencionais de tratamento, centradas na noção restrita de doença e na meta única de abstinência, são de eficácia duvidosa (Cutler & Fishbain, 2005).
Além da eficácia questionável, também se verifica um aspecto contraproducente de tais tratamentos (Carballo et al., 2008), no sentido de "penalizarem" o paciente quando ele volta a beber. Com a supervalorização da abstinência, o sujeito é mais vulnerável ao chamado "efeito de violação da abstinência" (Silva & Serra, 2004), ou seja, os sentimentos negativos experimentados ao beber (frustração, culpa, tristeza), que levam o sujeito a concluir que seu esforço é vão, abandonando o empenho em recuperar-se e retornando ao abuso de álcool.
A contribuição da antropologia (Minayo, 2008; Velho, 1999, 2001), da fenomenologia (Sodelli, 2010) e do existencialismo (Sartre, 1960; Schneider, 2011) possibilita buscar o entendimento das razões das recaídas em alcoolistas e, com isso, pensar novas perspectivas para o tratamento. O papel de doente deveria ser flexibilizado, dando espaço para atitudes mais ativas e autônomas, para que outros papéis possam também ser assumidos e para que outras estratégias sejam implementadas.
Segundo Velho (1999), o sujeito constitui sua identidade na articulação de seus projetos pessoais com sua memória, dentro de um campo de possibilidades. O campo de possibilidades é o contexto, abarcando desde as interações sociais imediatas até o contexto cultural. A memória diz respeito à atribuição de sentido às experiências do sujeito em sua história. Para um usuário crônico de substâncias psicoativas, faz-se necessário trabalhar essa memória e seus sentidos, rearticulando projetos pessoais.
Sartre (1960) aprofunda o conceito de projeto, mostrando como o projeto-de-ser de um indivíduo é forjado em seu meio social, caracterizando-se pela busca do sujeito de realizar o seu ser, já que o homem está sempre indo em direção ao seu futuro. Não existe indivíduo sem projeto. Mesmo não ter projeto é ainda um projeto; o homem, ao lançar-se no mundo, persegue um fim, mesmo que não tenha clareza de qual é ele. Em cada posicionamento, em cada comportamento do sujeito, existe uma significação que o transcende. Sendo assim, há que se compreender a função do uso de álcool na vida do sujeito e trabalhar isso em um tratamento dirigido à atenção integral e que tenha como meta a sua qualidade de vida. Daí a importância de resgatar o projeto de ser que o alcoolista não consegue mais vislumbrar, mas que está no fundo de suas afetações, angústias e compulsões, e que o impelem ao consumo intempestivo do álcool, para poder ressignificá-lo.
Considerações finais
Uma das principais conclusões que se pode tirar dos resultados deste estudo é que a recaída está relacionada a determinadas formas de significação das experiências (de tratamento, de recaída e de recuperação) que convergem para uma organização identitária do sujeito, em que predominam características passivas, com empobrecimento dos projetos de vida e com a repetição de tratamentos pontuais que não desenvolvem sua autonomia.
Outra conclusão importante é que os tratamentos tradicionais, além de apresentarem eficácia questionável, possuem aspectos contraproducentes, na medida em que enfatizam a abstinência como única meta aceitável para o tratamento. Assim, reforçam certas ideias sobre recuperação que acabam por contribuir para o empobrecimento dos projetos de vida dos alcoolistas: a noção de recuperação que os entrevistados apresentam é restrita, eles desqualificam melhorias de vida que não coincidem com abstinência, e contabilizar períodos de abstinência torna-se sua prioridade. Muitos passam a realizar suas vidas em função dos planos de tratamento, sem vislumbrar outras possibilidades de ação nas condições concretas da realidade que os cerca.
Atividades e interações sociais que poderiam criar condições de recuperação (buscar emprego, retomada de vínculos sociais, familiares e amorosos) são paradoxalmente adiadas, em muitos casos, para depois da recuperação, pois entendem que devem ter a certeza da manutenção da abstinência, sem lapsos e recaídas, o que acaba por gerar um círculo vicioso, pois sabe-se que reestruturar esses vínculos é elemento crucial para a recuperação (Alvarez, 2007), para que o sujeito se experimente integrado em seu contexto e a bebida perca a função de bengala química.
Estas conclusões sugerem que melhorias mais significativas na saúde do alcoolista requerem mudanças nas condições que produzem o fenômeno do alcoolismo, o que implica a adoção de atitudes mais ativas, para além do papel de doente, com o resgate de projetos de vida que envolvam outros tipos de interações sociais e que visem à transformação do contexto em que ele vive.
Os serviços de atenção poderiam melhorar sua eficácia flexibilizando suas próprias concepções sobre o alcoolismo, principalmente quanto à ênfase na abstinência como meta única e na necessidade de tratamento permanente, passando a investir mais naquilo que de melhor podem proporcionar: conscientização mais realista, reinserção social e promoção/resgate de vínculos afetivos significativos para o sujeito, buscando um comprometimento com a viabilização de outros projetos de vida para os alcoolistas.