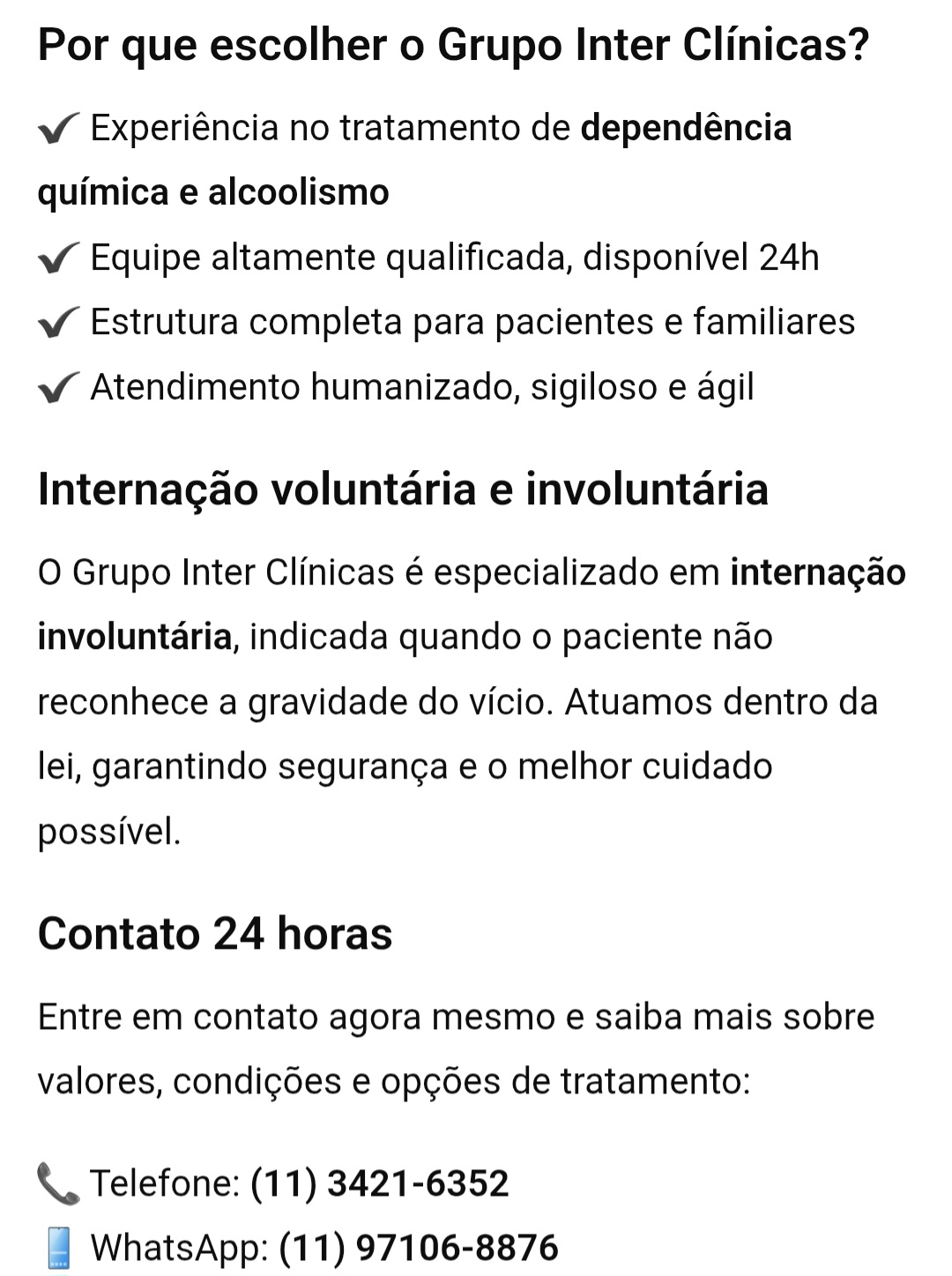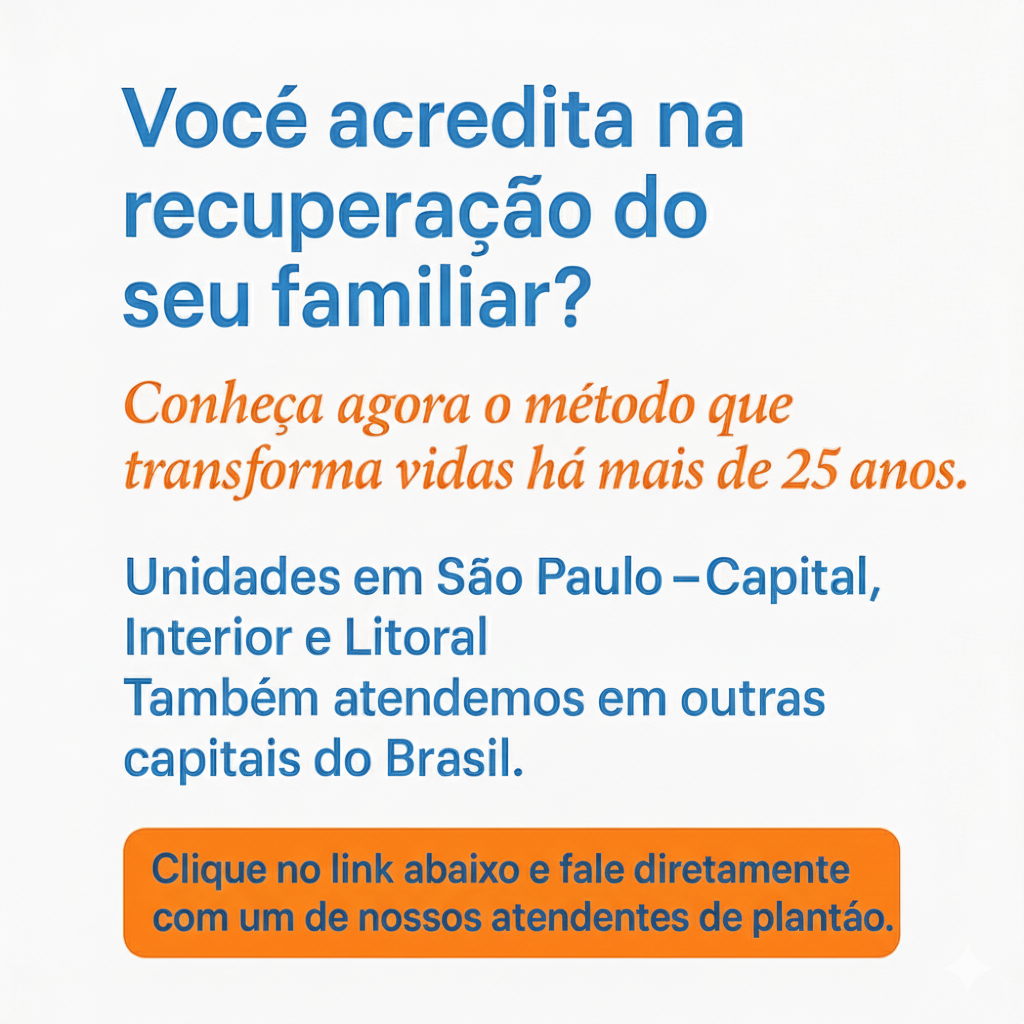
Equipe de remoção 24 horas
Introdução
A revisão da produção científica recente sobre o alcoolismo evidencia predominância de abordagens quantitativas nas pesquisas, indicando hegemonia da perspectiva biomédica, sustentada na concepção de dependência como doença orgânica e modelos de tratamento baseados em farmacoterapia e psicoterapia breve comportamental-cognitiva, voltados à abstinência e prevenção de recaída (Pires, 2011; Pires & Schneider, no prelo). A contribuição das ciências sociais tem sido pouco considerada nesses estudos publicados em revistas de impacto, mesmo com pesquisas apontando a importância do contexto, da história de vida e das interações sociais para a recuperação. Predominam, portanto, modalidades mais convencionais de tratamento, ainda que muitas investigações venham apontando resultados controversos e eficácia duvidosa (Cutler & Fishbain, 2005; Kalant, 2008; Kenna, 2005; Luty, 2006; Morley et al., 2006; UKATT Research Team, 2007; Zweben et al., 2008).
Um estudo de seguimento com alcoolistas em recuperação com e sem tratamento encontrou correlações muito pequenas entre receber tratamento e a melhora em termos de abstinência e redução do consumo, assim como apontou muito pouca variação dos resultados que poderiam ser atribuídos ao efeito do tratamento (Cutler & Fishbain, 2005). Outros estudos invertem a lógica de compreensão e mostram que o paciente não muda porque procurou ou permaneceu em tratamento, mas sim que só procurou ou permaneceu em tratamento porque já estava em um processo de mudança, destacando a importância da rede social (apoio familiar e do ambiente de trabalho) para a recuperação (Carballo, Fernández-Hermida, Secades-Villa, & García-Rodríguez, 2008; Gómez & Acuña, 2007). Ainda outras pesquisas mostram que na base das recaídas estão situações de pressão social, problemas nos relacionamentos interpessoais, estados emocionais negativos (Alvarez, 2007), indicando novamente a rede social como aspecto fundamental na compreensão das facilidades ou dificuldades de recuperação da dependência de álcool.
Orford, Hodgson, Copello, Wilton e Slegg (2009) apontam ainda que a recuperação é atribuída principalmente à determinação do próprio paciente, ainda que a importância do tratamento seja mencionada, mas muito mais em função do benefício que o paciente percebe na relação com um terapeuta, com quem pode falar abertamente. Resultados que reforçam o argumento de Bergmark (2008) sobre a maior relevância do vínculo acolhedor do que da técnica terapêutica em si.
Tem-se discutido a necessidade de ampliar o escopo das pesquisas na área (Orford, 2008), a fim de abordar outros possíveis determinantes do alcoolismo e de produzir uma compreensão do fenômeno que seja mais abrangente e mais próxima da realidade dos indivíduos. É importante flexibilizar o modo tradicional de se produzir ciência na área (marcado pelo empiricismo lógico e busca de elevada neutralidade e objetividade), assimilando mais amplamente as contribuições das ciências sociais.
Segundo Niewiadomski (2000), o interesse das técnicas de história de vida no alcoolismo se sustenta, fundamentalmente, em sua capacidade de permitir aos alcoolistas se confrontarem com as questões do sentido de suas ações, que eles têm dificuldade de enfrentar.
Este estudo investigou a recorrência de recaídas em dependentes de álcool através de uma abordagem qualitativa e partindo de uma concepção sócio-histórica de sujeito. Recorrendo ao olhar antropológico e fenomenológico sobre o abuso de drogas, a partir das contribuições de Velho (1999), Alves (1998), Minayo (2008) e Sartre (1960), compreende-se o alcoolismo como um fenômeno determinado, entre outros fatores, por um conjunto de interações e experiências do sujeito em determinados contextos. Em função do significado atribuído às próprias experiências e das circunstâncias do momento, o sujeito organiza sua conduta para determinadas finalidades e, assim, constitui continuamente sua identidade ao longo de sua trajetória.
A compreensão do mundo das drogas passaria pela "observação das redes sociais que organizam sua produção, distribuição e consumo, bem como pelo conjunto de crenças, valores, estilos de vida e visões de mundo que expressariam modos particulares de construção social da realidade" (Velho, 2001, p. 84). Os projetos individuais interagem com outros dentro de um campo de possibilidades, constituindo-se a partir de sua inserção em um contexto antropológico (cultural) e sociológico (rede de mediações sociais).
Em seu livro Crítica da Razão Dialética, Sartre (1960) discute a perspectiva de uma nova antropologia, que considera o homem sob o ponto de vista histórico e dialético. Nesse sentido, analisa os aspectos estruturantes da cultura, da sociedade e sua relação com os indivíduos concretos. Para compreender a realidade humana e, nesse caso, a dependência de álcool, devemos partir do conhecimento de que o homem é "produto de seu produto", quer dizer, ele faz a história, gera seus produtos, mas, por sua vez, estes o condicionam, ou seja, a história também o faz. Os sujeitos concretos fazem, portanto, eles mesmos, sua história, mas a fazem num meio dado que os determina (Sartre, 1960). O homem produz, assim, uma apropriação individual da realidade coletiva que o cerca, que ele mesmo contribuiu para construir; seu ser é, assim, resultante desse processo de interiorização da exterioridade social e de exteriorização de sua apropriação individual.
A pesquisa visou resgatar os sentidos atribuídos pelos sujeitos às suas histórias de uso de álcool e às experiências de tratamento e recaídas, descrevendo o contexto psicossocial em que se encontravam, com o objetivo de desvelar os projetos de vida desses usuários e explorar possíveis relações entre tais projetos e as recaídas no uso do álcool, por um lado, e as possibilidades de recuperação, por outro.